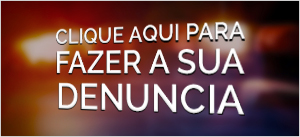Leitura
O drama que mudou o país
Na tarde de 30 outubro de 2015, numa rara sexta-feira sem operação da Lava Jato, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, convocou a sua sala o secretário-geral da Mesa, Sílvio Avelino. Naquele momento, dependia de Cunha o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dentro da Câmara, Cunha era soberano; fora, no Supremo, era vassalo. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, decidira destruí-lo meses antes. Na trama que se desdobrava no Brasil desde que os avanços da Lava Jato em Curitiba haviam alcançado os gabinetes de Brasília, controlar o tempo das decisões significava controlar o próprio destino e, com ele, o destino do país. Cunha, apesar de cada vez mais espancado processualmente por Janot com acusações de corrupção, ainda conseguia controlar o tempo do impeachment de Dilma. Ela, até então, era poupada por Janot. O tempo de Cunha era controlado por Janot e pelos ministros do Supremo: só eles poderiam pará-lo. O tempo dos ministros do Supremo não é controlado por ninguém.
Cunha sabia que, a cada dia – a cada denúncia contra ele, fosse forte, fosse fraca – seu tempo diminuía. Seu controle, sobre si mesmo e sobre Dilma, diminuía. Havia meses que milhões de brasileiros o pressionavam, nas ruas e nas redes sociais, pela saída da presidente. Muitos parlamentares, também – alguns poucos por convicção, outros tantos por puro cálculo político, todos, sem dúvida, influenciados pela pressão das ruas. Minguavam, mesmo dentro do PT, os defensores de Dilma. O governo da afilhada de Luiz Inácio Lula da Silva estava moribundo, vitimado, antes de tudo, pelos erros cometidos por ela. Como presidente da Câmara, só ele, Cunha, poderia acolher a denúncia que deflagraria o impeachment. Um impeachment que, naqueles dias, os mais bem informados em Brasília sabiam ser, uma vez aberto, irrefreável. A Lava Jato estava cada vez mais perto do Planalto, e o Planalto estava cada vez mais longe do Congresso.
>> Eduardo Cunha, o senhor do impeachment
Eram tais os pensamentos e cálculos que passavam pela cabeça de Cunha, sozinho na sala reservada de seu gabinete da presidência da Câmara naquele dia. Sílvio, o leal secretário-geral da Mesa, a quem cabia coordenar os andamentos dos trabalhos da Casa, atendeu rapidamente à convocação. “Preciso que você faça uma coisa para mim, Sílvio, mas em absoluta confiança”, começou Cunha, reclinado em sua poltrona. “Não pode comentar nem na sua casa.” O funcionário aquiesceu. “Estou preocupado. Há algo de estranho acontecendo. Busque o papel do impeachment”, disse. O papel era o parecer favorável à denúncia apresentada pelos juristas Hélio Bicudo, Janaína Paschoal e Miguel Reale Jr. Nela, pediam o impeachment de Dilma em virtude de, entre outras razões, fraudes orçamentárias que, para eles, constituíam crime de responsabilidade da presidente. Era a base técnica para um desejo político, no Congresso, e social, nas ruas.Naquela sexta-feira de outubro, Cunha estava preocupado. Recebera ameaças de morte e suspeitava que sua prisão não estava distante. Atribuía sua desgraça política e criminal ao Planalto de Dilma. Em cada denúncia divulgada por Janot, enxergava um ato de vingança e um ato de governo. Vingança do procurador-geral, a quem atacava desde que aparecera na Lava Jato, meses antes. Ato de governo, ao mesmo tempo, porque não tinha dúvidas de que Janot agia em sinistro concerto com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Naquele momento, era, de fato, difícil não enxergar seletividade, fosse estratégica ou não, nas ações de Janot. Apesar das dezenas de congressistas e ministros envolvidos no petrolão, de todas as cores partidárias, somente Cunha, o único que poderia – e queria – derrubar Dilma, recebia tratamento VIP do procurador-geral.
Cunha assinou o parecer, colocou-o num envelope e pediu ao funcionário que guardasse aquele documento num cofre. “Se acontecer algo comigo, qualquer coisa, se eu for preso, morto, afastado, não interessa, publique imediatamente o parecer”, ordenou o presidente da Câmara. Era uma espécie de testamento político de Cunha. Sílvio quis entender melhor o que se passava. “Nunca se sabe…”, limitou-se a dizer Cunha. O funcionário escondeu o envelope num compartimento secreto da sala dele. O presidente da Câmara voou para o Rio, como sempre fazia às sextas-feiras.
Seja como for, a política é feita, ora, por políticos. E os principais bastidores dos últimos anos em Brasília, alinhados numa cadeia lógica temporal, demonstram que as suspeitas mútuas entre chefes do PT e do PMDB, em especial entre Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, determinaram o destino de ambos – e de ambos os partidos. Quanto mais os dois lados precisavam da confiança um do outro, menos a tinham. Quanto mais as relações se deterioravam, em face da Lava Jato e das crises política e econômica, mais a desconfiança passava a ser suspeita, e a suspeita certeza. Certas ou erradas, as certezas de cada lado guiaram todos para a guerra que veio a se travar no impeachment. De aliados a adversários; de adversários a inimigos.Pouco mais de um mês depois, esse parecer, com algumas modificações, deu início ao impeachment de Dilma. O ato que inaugura o processo que se encerrou na semana passada, após longos e penosos meses para o Brasil, nasceu, em larga medida, da desconfiança, da suspeita – quiçá da paranoia. Mas não apenas ele. A associação entre PT e PMDB, a partir da eleição presidencial de 2010, com Dilma ao lado de Michel Temer, define-se por esses sentimentos. É certo que um processo complexo como o impeachment de Dilma comporta muitos ângulos de análise e variegadas explicações. Sem dúvida, é difícil encontrar as proporções e os pesos adequados, entre causas e consequências na soma dos fatos políticos, econômicos, sociais e criminais dos últimos anos, que permita responder satisfatoriamente à simples pergunta: por que Dilma caiu? Qual o peso da Lava Jato? Quanto a queda se deve à calamidade econômica provocada pela gestão petista ou aos milhões de brasileiros protestando nas ruas?
O julgamento de Dilma no Senado foi uma batalha final de sete dias. Do ponto de vista político, a guerra já estava ganha pelo PMDB – vitória obtida em 17 de abril, quando as forças do partido e aliados, comandadas por Cunha, triunfaram contra Dilma no plenário da Câmara. Os meses seguintes, em que, primeiro, o Senado admitiu o processo, forçando o afastamento provisório de Dilma, e, depois, seguiu os procedimentos legais para julgar em definitivo a presidente, consolidaram o poder em Michel Temer e no PMDB. O poder não se deslocou para Temer por gravidade. Deslocou-se, antes mesmo da primeira votação do impeachment, porque ele e seus aliados foram mais competentes, por terem condições políticas, ao dar espaço, de modo fisiológico, aos mesmos parlamentares que antes apoiavam Dilma. O impeachment havia se tornado, no chão da política, numa eleição indireta entre Dilma e Temer.
>> Rodrigo Maia: “Isto aqui não é um videogame, é uma guerra”
O impeachment, como ensinam a Constituição, as decisões do Supremo e a literatura sobre o assunto, é um processo eminentemente político. Precisa observar princípios constitucionais e respeitar certos ritos processuais. Exige um crime de responsabilidade. Apesar do nome, não se trata de uma infração penal – nem o impeachment, mais uma vez, traduz-se num julgamento criminal. Crime de responsabilidade é um ato do presidente que atente contra a Constituição. Cabe aos parlamentares avaliar se o crime existiu. Mesmo que tenha existido, é deles o juízo, de oportunidade e conveniência, para afastar ou não o presidente. Podem determinar que um crime de responsabilidade transcorreu e, mesmo assim, decidir que o chefe da nação deve permanecer no cargo. Num processo criminal, o juiz é obrigado a escolher em função da verdade dos autos: se o réu tiver, grosso modo, culpa, deve necessariamente pagar por isso.A última etapa desse processo era necessária do ponto de vista constitucional. Apesar de Dilma e o PT terem acusado repetidamente serem vítimas de um golpe parlamentar, golpe não houve. Pode-se concordar ou não com o resultado do impeachment. Também é perfeitamente possível julgar que a razão técnica para o afastamento de Dilma – em suma, o golpe fiscal dado por ela no país – seja insuficiente para a gravidade da medida. Mas é inegável que o processo foi constitucionalmente rigoroso e processualmente irretocável. Nunca houve, na história das democracias ocidentais, um impeachment que concedesse tamanho direito à ampla defesa e observasse com tanto cuidado o devido processo legal. Nenhum país exige tamanha maioria em ambas as Casas Legislativas – 2/3 dos votos – para o impedimento do presidente.
>> No impeachment, o que vale é a política, estúpido
No caso de Dilma, o Supremo, no começo de dezembro, suspendeu a tramitação do processo e, semanas depois, resolveu detalhar às minúcias todo o rito a ser seguido. Os ministros rejeitaram o argumento da defesa de Dilma de que houve desvio de finalidade no ato derradeiro de Eduardo Cunha – dito de outro modo, que houve vingança e que, por isso, a decisão deveria ser anulada. Para o Supremo, é soberana a prerrogativa do presidente da Câmara de acatar ou não o impeachment. Se a denúncia de Hélio Bicudo e Janaína Paschoal fosse inepta – numa palavra, piração –, os ministros a teriam rejeitado. Mantiveram-na.
Essa defesa foi feita em 46 minutos.Com a paralisação, os ministros do Supremo haviam controlado o tempo do impeachment – o tempo de Dilma Rousseff e o tempo de Eduardo Cunha. Mostraram que, hoje, são os homens e as mulheres mais poderosos do Brasil. Mas não mudaram o desfecho que, no julgamento da semana passada, alguns no Brasil temiam e muitos queriam: o fim dos 13 anos da era petista no Planalto. A defesa desses 13 anos foi feita por Dilma na segunda-feira, no quarto e mais momentoso dia dos seis que perfizeram o julgamento.
Na manhã da segunda-feira, dia 29 de agosto, Dilma Vana Rousseff, uma senhora circunspecta de 68 anos, assomou à tribuna do Senado para proferir o discurso mais importante no Congresso desde a Constituição de 1988. Também era, naturalmente, o discurso da vida dela – da vida política dela. O Senado estava tomado por parlamentares, assessores, jornalistas. Das galerias, Lula, o patrono do PT, e até o músico Chico Buarque aguardavam as palavras da presidente afastada. Havia demasiada luz – da multidão de lâmpadas que habitam o teto do plenário, dos grandes flashes dos fotógrafos, dos pequenos flashes dos celulares. Havia demasiado calor. Havia demasiada gente. O evento político das últimas duas décadas não cabia no pequeno plenário azul do Senado.
O burburinho cessou assim que Dilma posicionou-se na tribuna. Vestia-se com elegância. Fitava com gravidade os senadores. Pôs-se a falar. Não era, no início, a Dilma que o Brasil conhecia, de ideias desconexas e frases inacabadas. Havia se preparado: falava com clareza e segurança. “Nesta jornada para me defender do impeachment me aproximei mais do povo, tive oportunidade de ouvir seu reconhecimento, de receber seu carinho. Ouvi também críticas duras ao meu governo, a erros que foram cometidos e a medidas e políticas que não foram adotadas. Acolho essas críticas com humildade”, disse. “Até porque, como todos, tenho defeitos e cometo erros. Entre os meus defeitos não está a deslealdade e a covardia.” Não listou defeitos ou erros; passou a arengar contra o “golpe parlamentar” e o “governo usurpador”.
Àquela altura, Lula, então presidente, já havia incorporado o PMDB a seu governo. Mas somente – e tão somente – com cargos. Parte desses cargos estava na Petrobras, entre outras estatais e alguns fundos de pensão. Serviram para que chefes do partido, como demonstrou a Lava Jato, obtivessem dinheiro sujo do petrolão. Lula e o PT sabiam, no entanto, que Dilma precisaria de uma base sólida no Congresso, de modo que ela não enfrentasse os mesmos dramas dele. Dilma conheceu melhor o chefe do “governo usurpador”, Michel Temer, em 2009, durante a pré-campanha dela à Presidência. Temer era presidente da Câmara; Dilma, ministra da Casa Civil. Apesar da relevância das posições que ocupavam, nunca haviam trocado mais do que duas ou três palavras em eventos oficiais. Dilma era a gerentona do governo. Não se interessava, ao menos na prática, pela arte da política – a arte de conversar, de dialogar, de ouvir antes de falar (ou mandar), de ceder, de fazer acordos e chegar a consensos, tomando decisões difíceis. O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, do PMDB, que se tornara próximo de Dilma, propôs um almoço entre os três. “A senhora será candidata, precisa se aproximar do PMDB. Ninguém melhor do que Michel para isso”, disse Lobão a Dilma. Almoço houve. Aproximação, não. Conversaram somente sobre banalidades políticas.
A melhor solução seria compor a chapa presidencial com o PMDB. Apesar dos protestos de setores do PT, que nunca confiaram na lealdade jurada pelo PMDB, e também em virtude de um desprezo mal disfarçado de muitos petistas pelo partido de Renan e Cunha, Lula tinha amplos poderes para fechar a aliança. Havia escolhido Dilma, e escolheria seu parceiro na chapa.
Em outubro de 2009, num jantar no Palácio da Alvorada, Lula formalizou o convite a Temer. Dilma estava lá. Sempre distante, sempre fria, na visão dos peemedebistas. A sociedade já começou com problemas. Em retrospecto, problemas que indicavam as poucas chances de que, no decorrer dos anos, os dois lados pudessem extrair o que queriam dessa parceria. O PT queria um Congresso manso. O PMDB queria mais poder. As duas partes, no entanto, não tinham como entregar o que prometiam nesse contrato informal. O PMDB não poderia manter-se leal sem muita participação no governo – e muitos cargos, sempre mais cargos. O PT, por sua natureza ideológica, não conseguiria dividir poder.
Ganharam. E ganharam juntos. Temer e o PMDB levaram três minutos de televisão – uma preciosidade – para a propaganda de João Santana. Ele, porém, apareceu somente uma vez na TV. E após muita reclamação. Na prática, eram “campanhas apartadas”, como viria a definir um dos peemedebistas envolvidos naquelas eleições. Temer visitou estados onde o PMDB tinha palanques mais fortes. Articulou apoio a Dilma – e a si mesmo, por óbvio. A campanha era o prenúncio do que seria aquela relação: pragmática, fria.Na convenção do PT, o partido relutava em anunciar a chapa com o PMDB. Temer, pressionado por seus pares, procurou Dilma. “Depois nós resolvemos isso”, disse Dilma, sem entender o significado dos gestos na política. Pouco depois, com a ameaça de rebelião no PMDB, Lula ligou para Temer. Conversaram pessoalmente. Lula prometeu que tudo seria resolvido – e foi. “A figura central dessa articulação era o Lula”, diz um chefe do PMDB. “Todos pensávamos que, como ele resolvia os problemas, conseguiria resolver o que fosse com a Dilma se ganhássemos em 2010.”
Uma vez no poder, Dilma e Temer mantiveram uma relação cerimoniosa, se tanto. O PMDB ganhara ministérios, mas não poder. Nunca participou das decisões estratégicas do Planalto.“Não era tratado como vice-presidente, mas como membro do PMDB”, disse Temer a amigos recentemente. “Toda vez que havia um problema com votos no PMDB, chama o Temer!” Conforme a dificuldade de Dilma em lidar com o Congresso ficava evidente, Temer gastava seu cartão de crédito político, como já definiu, para fechar acordos que, em seguida, seriam, não poucas vezes, descumpridos por Dilma.
Palocci foi direto. “Do jeito que está ficando, não vai dar. Não vai ter jeito. A presidente quer que mude (o projeto). Ou amanhã ela demitirá Wagner Rossi”, disse o petista, referindo-se ao ministro da Agricultura, muito próximo de Temer. O peemedebista, acostumado às liturgias e aos cuidados do poder, não acreditou. “O que o ministro disse ao vice-presidente da República? Quer repetir, por favor?”, disse Temer, elevando a voz. Palocci desconversou, disse que não era bem assim. Ficaram de falar pessoalmente. Antes de desligar, Palocci disse a Temer: “Entenda, a presidente ficou nervosa com esse assunto”. “Presidente da República não tem de ficar nervoso. Presidente da República tem de ser estadista”, disse Temer, bem a seu estilo. Sabia que Dilma estava ouvindo. “Não precisa continuar. Diga à presidente que amanhã estarei aí cedo com os seis pedidos de demissão dos ministros do PMDB.” E desligou o telefone.Como se deu na negociação do Código Florestal, ainda no primeiro ano de governo Dilma, em 2011. Temer, procurado por aliados no Congresso, ajudou a articular um acordo, com o aval dos líderes do governo, para a aprovação do projeto. No final da noite, quando estava no Palácio do Jaburu, ao lado do amigo e ministro Moreira Franco, recebeu uma ligação de Antonio Palocci, ministro da Casa Civil por breves e turbulentos meses. “Posso botar no viva-voz? O (Cândido) Vaccarezza (líder do governo) está aqui me ouvindo”, disse Palocci, meio sem jeito. Temer, que falara com Vaccarezza mais cedo, sabia que não era Vaccarezza que queria escutar a conversa. Era Dilma.
Quinze minutos depois, Palocci ligou novamente. Temer já havia se acalmado um pouco. “Nunca recebi uma reprimenda como essa. Você está enganado, Palocci. Eu sou vice-presidente da República. Posso presidir a República se ela se afastar. Não me tratem dessa maneira”, disse Temer. Era a colisão de duas culturas políticas. Os líderes mais antigos do PMDB, como Temer, e nenhum mais do que Temer, obedecem a um código de conduta que preza pela cordialidade e repele brigas verbais. No partido, não há hierarquia real e sobra vaidade política. Esse código invisível, que também exige lealdade inquebrantável quanto à palavra dada, governa as ações dos políticos do partido. No PT, há menos etiqueta e, alguns diriam, salamaleques. Dilma é – ou era – hierarquia pura. Dava ordens, não conversava. Como daria certo?
Era o que se perguntava Temer nos anos seguintes, conforme os problemas acumulavam-se. O caso do Código Florestal foi contornado; outros, não. “Fui sufocado”, disse Temer certa vez. “Eu ficava quieto. Pensava: ‘Vice não pode se apresentar demais porque incomoda o presidente’.” A campanha de 2014 foi parecida com a de 2010. Três minutos de TV dados pelo PMDB e cada um trabalhando nas suas bases. Temer, porém, ajudou a desarmar uma candidatura do partido no Paraná, em benefício de uma que consolidasse a aliança com o PT. Viajou uma vez com Dilma.
Com a ascensão de Eduardo Cunha e a queda crescente de popularidade de Dilma, estava cada vez mais difícil unir o PMDB. É um partido que se une em torno do poder – e o poder começava a se afastar de Dilma, mesmo quando ela foi reeleita. Temer, quando percebeu o estrago da campanha eleitoral de Dilma, na qual ela prometeu a lua aos brasileiros, foi ter com a presidente a sós. “A senhora sabe que fui um vice decorativo nos últimos quatro anos. Não gostaria que isso se repetisse”, disse Temer. “Nada disso. Você terá um papel importante”, devolveu Dilma. Temer dizia, a sua maneira, que não seguraria o PMDB. E que sabia que o poder estava próximo, caso Dilma se mantivesse mercurial e alheia às necessidades da política.
Dilma fala num só galope. Menciona trevas, escuridão, toda sorte de metáforas que associem o ano democrático de 2016 aos anos sombrios da ditadura militar. A tortura, agora, é constitucional e moral. Seja como for, ela é vítima, não mais do que vítima. O plenário permanece em silêncio; ela toma um gole d’água. “Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha”, disse. “Exigia aquele parlamentar que eu intercedesse para que deputados do meu partido não votassem pela abertura do seu processo de cassação. Nunca aceitei na minha vida ameaças ou chantagens. Se não o fiz antes, não o faria na condição de presidenta da República. É fato, porém, que não ter me curvado a esta chantagem motivou o recebimento da denúncia por crime de responsabilidade e a abertura deste processo, sob o aplauso dos derrotados em 2014 e dos temerosos pelas investigações.”
Das galerias, Lula, de terno mas sem gravata, alisa o bigode e observa, compenetrado. Não pisca. Jaques Wagner, o último articulador político de Dilma, também assiste de lá. Não há mais o que fazer por ela; apenas comungar, lealmente, do momento definitivo da queda, dos únicos minutos do julgamento em que há algo a fazer, mesmo que em silêncio. “Se eu tivesse me acumpliciado com a improbidade e com o que há de pior na política brasileira, como muitos até hoje parecem não ter o menor pudor em fazê-lo, eu não correria o risco de ser condenada injustamente”, disse Dilma.
Em março de 2015, semanas após as manifestações que levaram milhões de brasileiros às ruas, todos pedindo o impeachment de Dilma, a presidente recebeu o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e sua mulher, Cláudia Cruz, para um jantar no Palácio da Alvorada. Era uma tentativa de aproximação. O governo estava desmoronando e, graças à inabilidade de Dilma, o Planalto fora contra, em vão, a candidatura de Cunha à presidência da Câmara, no mês anterior. Dilma nunca fora com a cara de Cunha, e Cunha não era lá muito fã do estilo da presidente. Mas ambos se reuniam por necessidade política.
O presidente da Câmara, porém, ascendera dentro da Câmara, entre outras razões, na mesma medida em que crescia, entre os deputados, o sentimento anti-PT. Cunha percebeu esse fenômeno ainda no primeiro mandato de Dilma. Ela e o PT eram tolerados pelos deputados de partidos como PR, PP, PTB, PSD, entre outros. A presidente descumpria, com frequência incomum, a palavra empenhada com os parlamentares. Hesitava em liberar emendas e nomear aliados dos deputados em cargos do governo. Conforme essa insatisfação se alastrava pela Câmara, Cunha se aproveitava dela. Fazia seu nome. Entendia os compromissos políticos e financeiros dos deputados. Não quebrava a palavra e, assim, personificava, para muitos ali, o ideal do político anti-PT. E o antipetismo se desenhava, no começo de 2015, como a maior força política do país.Dilma precisava de Cunha para aprovar medidas impopulares na Câmara e, caso fosse necessário, para impedir a abertura de um ainda distante processo de impeachment. Cunha precisava manter boas relações com a presidente. Ainda não sabia se Dilma erraria o suficiente para cair e não terminar o mandato. Poderia vir a precisar da petista – e, num cenário remoto, até se aliar a ela. Cunha conhecia as excelentes relações de Dilma no topo do Judiciário.
O jantar com Dilma foi agradável. Até mais do que isso. Cláudia Cruz e Dilma trocaram telefones e passaram a se falar por WhatsApp. A mulher de Cunha chegou a dar conselhos a Dilma sobre ciclismo, a paixão da petista. Houve outros encontros. Neles, Dilma, com a sobrevivência em jogo e aconselhada por Lula, tentava ganhar Cunha. A linha adotada por Cunha era clara: ajudaria na economia e não atrapalharia na política – caso não fosse atrapalhado.
Naqueles meses, era comum ouvir Cunha, em reuniões e até em palestras, defender pontos da política econômica de Joaquim Levy. O presidente da Câmara sempre teve bom diálogo com os maiores empresários do país. Sabia o que eles queriam e, como sempre, estava disposto a ajudar. Seu interesse político – ser presidente da República, quem sabe – o aproximava dos poderosos. Antes da Semana Santa de 2015, chegou a cobrar de Levy que enviasse à Câmara projetos prometidos pelo governo. O ministro da Fazenda reclamou que estava tudo parado no Planalto. Eram dias em queRenan Calheiros, presidente do Senado, era quem mais causava estragos no governo Dilma. Depois, aliou-se a ela. Até agora, escapou da Lava Jato.
A Lava Jato, sempre a Lava Jato. Foi a operação que separou de vez Cunha de Dilma. Como não dissociava Janot de Dilma, tornou-se inimigo dela. Declarou-se rompido com o governo em julho. Hoje, reconhece que foi um erro. Ali, seu destino entrelaçou-se com o de Dilma. Não poderia deixar de acolher o impeachment, mesmo que a presidente voltasse a ter força suficiente para barrá-lo no plenário. Poderia cair e não derrubá-la.
No segundo semestre, Cunha dedicou-se a preparar o impeachment. Ainda havia conversas de lado a lado, mas a queda do governo estava evidente para quem estava dentro do poder. Era uma questão de tempo – de controle de tempo. Restava a Cunha manejar seu tempo com o tempo de Dilma, de maneira que ele pudesse sobreviver politicamente.
Não haveria impeachment sem Cunha. Da denúncia apresentada à votação capital na Câmara, foi ele quem garantiu a ascensão de Temer e de seus aliados do PMDB, mesmo que fosse sacrificado na batalha. Ele julgava, talvez com razão, que a primeira denúncia apresentada pela turma de Bicudo seria considerada inepta pelo Supremo. Mencionava atos de Dilma em 2014, antes do segundo mandato. Para o Supremo, presidentes não podem ser processados por atos anteriores ao atual mandato. Orientou os deputados da oposição a pedir uma nova denúncia, que contemplasse somente atos da presidente em 2015 – como veio a ser feito.
Cunha decidiu em outubro que o impeachment seria apresentado até o final do ano. Enquanto isso, o PT contra-atacava no Conselho de Ética da Câmara. Num jantar no Jaburu, em que Temer fez questão de sair antes da conversa, Jaques Wagner ofereceu a Cunha os votos do PT no Conselho de Ética. Ofereceu, também, foro no Supremo para a mulher de Cunha – algo que, supõe-se, o Planalto não poderia entregar. Queria, em troca, que Cunha não acolhesse o impeachment e votasse em favor da volta da CPMF. O presidente da Câmara declinou. Não confiava mais no PT. E sabia que os votos no Conselho de Ética não são tão controláveis assim. Dependem da pressão externa e do momento político. Os dois chegaram a conversar novamente sobre o mesmo tema numa sala da base aérea, em Brasília, no feriado de 12 de outubro. “Eles estavam vendendo o que não poderiam dar”, disse Cunha a aliados.(Jaques Wagner nega a oferta.)
As ofertas, segundo o relato de Cunha e aliados, prosseguiram até o momento derradeiro do impeachment, em 2 de dezembro, uma quarta-feira. Cunha não tinha mais como esperar. Sabia que, mesmo que recebesse os famosos três votos do PT no Conselho de Ética, eles não se manteriam por muito tempo. Eventualmente, se tornariam contra ele. Naquele momento, o governo iria votar uma mudança no orçamento, o que enfraqueceria a base técnica para o impeachment – os decretos sem previsão orçamentária. Era a hora de agir.
No final da manhã daquela quarta-feira, Cunha pediu aos aliados para ficar sozinho na residência oficial da Câmara. Refletiu. Viu-se sem saída. Chamou o secretário-geral da Mesa – o mesmo que guardara o parecer secreto. “O que você faria?”, perguntou ao funcionário. “Eu já teria feito há muito tempo”, ele disse. Após comunicar a decisão a Temer e a Renan, Cunha recebeu ligações de Jaques Wagner. Não atendeu. Minutos depois, ainda na hora do almoço, o deputado André Moura, seu aliado e contato com o Planalto de Dilma, chegou à residência oficial com a mensagem de que Wagner garantiria os votos no Conselho de Ética. Que haveria armistício. “Esquece”, disse Cunha. O ministro de Dilma insistiu. André Moura botou no viva-voz. “Garanto, garanto os votos”, disse Wagner, segundo o relato de três testemunhas.
Cunha deu de ombros. Tinha dúvidas de que o impeachment passaria, mas não tinha dúvidas de que Wagner e Dilma descumpririam o acordo.
>> O último toma lá dá cá de Dilma
Os minutos começam a passar mais lentamente. O vigor das palavras esvai-se com a longa defesa técnica, que dura 20 minutos e cansa uma audiência que já ouviu aqueles argumentos. Querem ouvir dela o que os advogados nem as testemunhas podem dizer. O que seria? Uma penitência política? A admissão sincera de erros? Certamente, todos estão ali por algo maior do que os decretos assinados sem previsão orçamentária. Estão ali porque julgam necessário apear uma presidente do cargo. Esperam, em vão, algo que jamais ouviriam: desculpas e um gesto de conciliação. Ouvem, ao contrário, a palavra golpe. Repetidas vezes.
“Cassar em definitivo meu mandato é como me submeter a uma pena de morte política”, prossegue Dilma. “Sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que, mais uma vez, a democracia seja condenada junto comigo. E não tenho dúvida que, também desta vez, todos nós seremos julgados pela história. Hoje eu só temo a morte da democracia, pela qual muitos de nós, aqui neste plenário, lutamos com o melhor dos nossos esforços.” Dilma equipara seu destino ao destino da democracia. Ouve-se o ranger das cadeiras; alguns senadores estão desconfortáveis. “Peço: votem contra o impeachment. Votem pela democracia”, disse, antes de descer da tribuna sob aplausos moderados de seus aliados. Ainda falaria muito, mas pouco diria. Os 61 votos que a cassariam já estavam definidos.
Em maio do ano passado, enquanto tentava aplacar Cunha, Dilma pediu que Temer convidasse Eliseu Padilha para ser articulador político do governo. Padilha, que não queria se meter numa roubada, declinou. Temer explicou a situação a Dilma. “Não, deixa que eu convenço o Padilha. Traz ele aqui”, disse. Encontraram-se os três no gabinete presidencial. “Você tem de aceitar, Padilha. É importante para o país, para o governo”, disse Dilma. Padilha ficou sem graça. Enrolou. Disse que ia consultar a família. “Conversamos às 15 horas amanhã”, decretou Dilma.
No dia seguinte, os jornais publicaram que Padilha assumiria o cargo no lugar do petista Pepe Vargas, que não sabia de nada. Às 14h45, Padilha passou no Jaburu. “Agora é que eu não vou mesmo”, disse aos aliados. Dez minutos depois, Dilma telefonou para Temer. “Estou esperando vocês para fazer o anúncio. Está tudo bem?”, disse a presidente. “Olha, presidente, não está, não. O Padilha não quer aceitar.” “Mas como não?! Isso vai gerar uma crise! Não tem jeito?” “Eu já falei três vezes, a senhora já falou. Não vou insistir mais”, respondeu Temer, exasperado.
Dilma propôs que eles pensassem por alguns minutos. Em seguida, ligou novamente. “A única solução é você aceitar”, disse ela a Temer. “Mas, como assim, presidente? Não posso ser ministro. Se não der certo, a senhora não pode me dispensar”, respondeu o vice. “Me ajude, é seu dever”, disse Dilma. “Eu já dispensei o Pepe Vargas na hora do almoço. Veja a situação em que vou ficar, a crise. Não tem jeito.” Temer topou ser articulador político. Ciceroneou Levy pelo Congresso, fez acordos com os parlamentares – e foi sabotado pelo PT.
“Não saiu quase nada que havia sido compromissado”, comunicou Temer a Dilma, numa reunião a sós. Referia-se a cargos, claro. “Vou enquadrar os ministros. Ou fazemos em 15 dias ou dará errado.” Dilma hesitou – e mostrou que não estava com ele. “Não convém, não. Melhor ir conversando”, disse a Temer. O vice pediu, então, para abandonar a função. “Ah, então tá bom, Temer. Você fica com a macropolítica”, disse. Ou seja, nada.
Ficaram sem se falar por meses. Não havia mais nada a dizer. Temer se preparava para receber o poder. Nem precisaria fazer força. Bastava deixar que o governo prosseguisse desmoronando. Após o episódio da carta em que reclamava de como fora tratado, Temer teve a última conversa pessoal com Dilma. Foi numa terça-feira, no começo da noite, quando o impeachment já era o assunto que dominava o Brasil. “Li os seis, sete pontos de sua carta e me perguntei: será que fiz isso mesmo com o vice-presidente? Pensei melhor: quatro pontos havia feito mesmo. Fiquei muito triste”, disse Dilma. “Não quero mais repetir isso. Quero ter uma boa relação com você.” Como naquele primeiro almoço, com Lobão, em 2009, a conversa acabou fria, seca. Não havia nada entre eles. Entre um ponto da história e outro, somente mágoas, desconfianças e ataques. Talvez ambos soubessem que, em não muito tempo, seria ele, Temer, quem estaria naquele gabinete. O tempo de Dilma acabara.
Fonte: http://epoca.globo.com/tempo/especial-impeachment/noticia/2016/09/o-drama-que-mudou-o-pais.html