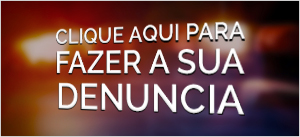Leitura
A política é a arte da sacanagem
O jornalista e escritor Ruy Castro completa 50 anos de carreira em 2017. Em 2018, faz 70 anos. Para comemorar o evento, sua mulher, a escritora Heloísa Seixas, organizou o volume “Trêfego e Peralta – 50 textos deliciosamente incorretos”, lançado pela Companhia das Letras, reunindo sua produção jornalística. O título surgiu de uma brincadeira de um amigo — talvez Jaguar, Ruy não se lembra — e define a sua trajetória como repórter: “trêfego” significa “sagaz”, “astuto”; “peralta” é um indivíduo afetado, um “peralvilho”, como diriam nos tempos áureos do Rio de Janeiro, a cidade que Ruy, mineiro de Caratinga, cultua. Ele tinha 19 anos e morava no famoso Solar da Fossa, berço da contracultura carioca, quando começou a trabalhar como repórter no jornal “Correio da Manhã”. Foi em maio de 1967 que saiu no jornal a sua primeira reportagem assinada: uma homenagem ao compositor Noel Rosa nos 30 anos de sua morte. A matéria não consta do volume, mas foi o marco zero do estilo de Ruy, feito de humor e pesquisa, cujo segredo ele revela nesta entrevista — ou melhor,bate-papo.
Que significa “trêfego e peralta”?
Acho que o Jaguar me definiu assim, mas não tenho certeza. De qualquer forma, a expressão é fiel ao meu modo moleque. A foto da capa do livro foi tirada quando eu tinha 33 anos e morava em Portugal, em 1974. É só olhar minha expressão para compreender quem sou eu, um sujeito que aparentemente não se levava a sério.
Por que publicar um volume com seu trabalho jornalístico?
Olha, desconfio de coletâneas com material de imprensa. Ninguém é tão importante para merecer uma. Por isso, tratei de publicar coletâneas temáticas ao longo da minha carreira: artigos sobre cinema, música popular, futebol, viagens. Aí a Heloísa Seixas fez uma coisa diferente, ela preparou uma coletânea que cobre a produção ao longo de minha carreira levando em conta matérias que trazem uma abordagem diferente, que reflete a forma como vejo os fatos, temas e personagens, que não é politicamente correta, até porque o termo nem existia quando comecei.
Como foi sua trajetória jornalística?
Trabalhei em muitos veículos: “Correio da Manhã”, “O Pasquim”, “Manchete”, “IstoÉ”, “Playboy”, “Status”, “Veja”, “O Estado de S. Paulo”. Eu parei de trabalhar em redação em dezembro de 1986, quando deixei a “Veja São Paulo”. Foi quando eu parei de beber e decidi escrever livros. Hoje só vou à redação para fazer uma visita. E como os nossos colegas hoje têm idade média abaixo de 25 anos, quando eu apareço na redação é como se um senador visitasse o jornal. A sensação é estranha. Mas por nem um único dia eu deixei de trabalhar para a imprensa nesses 31 anos. Acompanho tudo, até porque assino uma coluna três vezes por semana na “Folha de S. Paulo” sobre todos os assuntos e preciso estar atualizado. Quando eu escrevo, tento parecer que estou vestido de jornalista, embora de fato eu escreva sem camisa e de calção.
Você mantém uma relação amistosa com as novidades tecnológicas? Você lê notícias pela internet?
Sim, mas continuo a ser aquele cara que lê jornal de manhã e compra revista na banca da esquina. Não mexo com as redes sociais e não uso celular até hoje, acredita? Sou como aquele cidadão que ganhou uma vitrola, mas até hoje não notou que o disco tem dois lados para tocar. Eu me permito ser atrasado. Eu me recuso a escrever segundo a última reforma ortográfica. Envio os textos para a redação e ela que faça a atualização. Mesmo assim, já fui antenado. Fui um dos primeiros jornalistas a escrever matérias em um computador doméstico, nos idos de 1988.
Como você analisa a guerra cultural nas redes sociais, com manifestações contra a arte?
A intolerância não ocorre só no Brasil. Ela se espalha pelas redes sociais. Qualquer um se sente na posição de dizer o que quer. A mentalidade do politicamente correto se disseminou. Observe a distorção: se eu fizer uma coluna a favor do cigarro, vou ser massacrado; mas se defender a maconha, todos vão aplaudir. É um retrocesso perseguir o nu em 2017 quando já era normal para uma adolescente em 1968. Jornalista deve escrever e não ler opiniões de leitores. Sou o único colunista que não informa o e-mail. Os internautas que protestam em redes sociais reencarnam o leitor que escrevia para jornal. Paulo Francis dizia que leitor que escreve para jornal deveria ter o cérebro examinado. Os militantes de redes sociais precisam de tratamento psiquiátrico.
Você começou a carreira aos 19 anos o “Correio da Manhã” já como jornalista cultural. Como isso aconteceu?
Quando entrei no jornal, eu cobria a cidade. O editor José Lino Grünewald aprovou minha pauta: os 30 anos da morte de Noel Rosa. Eu saí pelo centro do Rio para falar com o Ismael Silva e a Aracy de Almeida, e montei a matéria a partir dessas conversas. A matéria saiu em 4 de maio de 1967, no dia da inauguração de uma exposição sobre Noel no Museu da Imagem e do Som. Fui até lá. As exposições eram feitas de recortes de jornal colados em tabiques. Para minha surpresa, a minha matéria já fazia parte da exposição. Eu estava lá lambendo a cria quando o diretor do museu, Ricardo Cravo Albin, me disse que ficou surpreso que um jovem fosse capaz de escrever sobre Noel Rosa, e resolveu me apresentar a alguma pessoas. Quando entrei numa sala, vi que lá estavam Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Paulo Tapajós e Braguinha. Em um minuto, toda a história da música popular brasileira me cumprimentou. A partir de então, comecei a assinar matérias. Passei a trabalhar com o Paulo Francis e foi aquela festa.
Você era menos peralta naquele tempo?
Eu era um jovem intelectualizado e me envolvia com a vanguarda, os poetas concretos, a nova esquerda, o anarquismo e o maoismo. Eu fazia altas pensatas sobre Jean-Luc Godard e Oswald de Andrade, como era comum. Quem fechava minhas matérias era o Francis. Quando ele editou a revista “Diner’s”, me encomendou textos com temas menos sérios. Eu só assinava os sérios. Paulo Francis me disse que as minhas melhores matérias eram as que eu não assinava. Repeti Millôr Fernandes, que assinava charges como Vão Gôgo e reservava o nome Millôr para as obras teatrais, mas se rendeu. Meus lados peralta e intelectual se uniram para sempre sob um nome só. Era como se o Doutor Jeckyll se conciliasse com o Senhor Hyde.
Que jornalistas foram determinantes para sua carreira?
As maiores influências foram existenciais. O Marinheiro Sueco (o publicitário Hans Henningsen. 1934-2015) foi o principal. Eu me tornei um moleque boêmio e bebedor por causa dele. Sabia tudo de música. Foram fundamentais Telmo Martino e sua verve, o humor de Millôr e de José Lino Grünewald, as dicas culturais de Paulo Francis e Ivan Lessa, o poder de análise do crítico de cinema de Moniz Vianna, do Carlos Heitor Cony, que conheci em 1969 e com quem não briguei até hoje. Cony era diretor da revista “Ele & Ela”. Escrevi para ele um “Manual do Paquera Perfeito”, que saiu em 1969.
Você aprendeu com esses mestres, mas criou um estilo próprio, capaz de provocar prazer em qualquer tipo de leitor. Qual o segredo de seu estilo?
Ninguém escreve bem, e sim reescreve. Meu segredo é cortar e simplificar o texto ao máximo, sem perder a premissa básica. Isso acontece na coluna: escrevo mais do que o limite do espaço — 1.815 caracteres – e tenho que cortar.
Você sofre quando tem que cortar o texto?
Não muito. Na verdade, é uma delícia cortar 400 caracteres. O teste final é eu sentir prazer de ler o texto final. Eu não entendo quem tem orgasmos ao ler Dostoievski. Aprecio textos “fáceis”, como o de Barbara Tuchman. Com ela, aprendi a história da política. Outro erudito que escreve fácil é o historiador Robert Darnton.
Que dica você dá para um novato escrever bem?
O jornal foi uma escola importante para minha geração. Numa redação, você apreendia a fazer pauta, organizar a estrutura de um texto e principalmente ouvir os outros. Não é possível escrever bem sem ter vivência e sem buscar a informação.
Você ama o Rio de Janeiro. A cidade está decadente?
Todos os meus livros são sobre o Rio. Estou preparando para 2019 um panorama sobre o Rio na década de 1920. Continuou apaixonado por esta cidade. O Rio de Janeiro é a cidade mais malhada do Brasil nas mais diversas épocas da história. É impressionante como as acusações são sempre iguais. O Rio já era decadente em 1710, 1795, 1830, 180, 1930… Paulo Francis achava que o auge do Rio se deu nos anos 1940. Para o Ivan Lessa, o Rio era bom mesmo nos anos 1950. Di Cavalcanti afirmou que o Rio poético morreu em 1922. Se recuarmos, vamos descobrir que o Rio entrou em decadência com o Estácio de Sá. O Rio é decadente há 500 anos.
Claro que hoje assistimos à corrupção total das instituições do Rio, a começar por seus governantes e políticos – e tudo ficou pior quando Lula e Dilma apoiaram Sérgio Cabral e sua turma para “desenvolver” o Rio. Isso foi desastroso. A nova decadência do Rio começou quando deixou de ser Distrito Federal e passou a fazer parte de um estado pobre. Vieram governadores como Moreira Franco, Brizola, Garotinho e Rosinha Matheus, culminando com Cabral e a atual acefalia. Mas o Rio continua sendo um agradável de viver. Ele está em 40º lugar em índice de violência. Há estabelecimentos tradicionais fechando as portas. Mas agora está decadente, talvez porque os jovens não queiram mais comer abacaxi. As coisas se renovam, inclusive a decadência.
Por que você odeia a política?
A política é a arte da sacanagem. Eu me desiludi dela muito cedo. O último político em quem votei foi Mário Covas para presidente em 1989. Depois, não votei mais em ninguém. Porque não acredito mais em ninguém. Eu me inoculei de política em Lisboa, durante a Revolução dos Cravos. Eu estava lá em 25 de abril de 1974,quando a derrubada da ditadura causou euforia. Todos pareciam acreditar em um futuro de liberdade. Poucos dias depois, porém, o Partido Socialista começou a perseguir os adversários usando os arquivos secretos de Salazar. Ver o golpismo da esquerda é a receita para você não acreditar mais em nada.
Você é perseguido pela esquerda no Brasil?
Tem leitor que me acusa de ter ajudado a depôr Dilma e colocado Temer no poder em minhas colunas. Respondo que quem colocou o Temer no Planalto não fui eu, e sim Lula e Dilma.
Para quem não se leva a sério, até que você é organizado. É verdade que, como conta a Heloísa na apresentação do livro, você guardou todos os seus textos?
Eu tenho uma estante que ocupa uma parede, repleta de pastas com textos meus organizados por data de publicação. Herdei esse hábito e essa coleção de minha mãe.
Ela era professora?
Não, dona de casa. Mas desde o tempo em que eu morava no Solar da Fossa ela começou a recortar e arquivar as matérias do filho. Ela era minha maior fã. Eu tinha 19 anos, mas já contava com os registros dela. Ela passou o material para mim e continuei a colecionar pastas.
Era um Google muito mais rápido do que o da internet, porque você obtinha dele a resposta imediata. Eu sou uma espécie de Google. Isso porque gosto de aprender. Isso não vai acabar nunca. Você vai morrer aprndendo. Nunca me contento com informações superficiais. Quero desvender um assunto e, para isso, esgoto a minha curiosidade.
Você sofre quando tem que cortar o texto?
Não muito. Na verdade, é uma delícia cortar 400 caracteres. O teste final é eu sentir prazer de ler o texto final. Eu entendo quem tem orgasmos ao ler Dostoiévski. Eu tenho prazer lendo textos “fáceis”, como o de Barbara Tuchman. Com ela, aprendi a história da política internacional. Outro erudito que escreve fáci é o historiador Robert Darnton, que me ensinou muito também
Como ser original quando tudo parece ter sido escrito, e sobre todos os temas possíveis?
Aprendi no jornal a pensar na frente e atrás do leitor. Eu gosto de abordar as atualidades à minha maneira, a partir de um ângulo inesperado, cômico ou ridículo. O importante é não cair na mesmice. Isso vale tanto para textos tanto como literários.
Fonte: https://istoe.com.br/politica-e-arte-da-sacanagem/